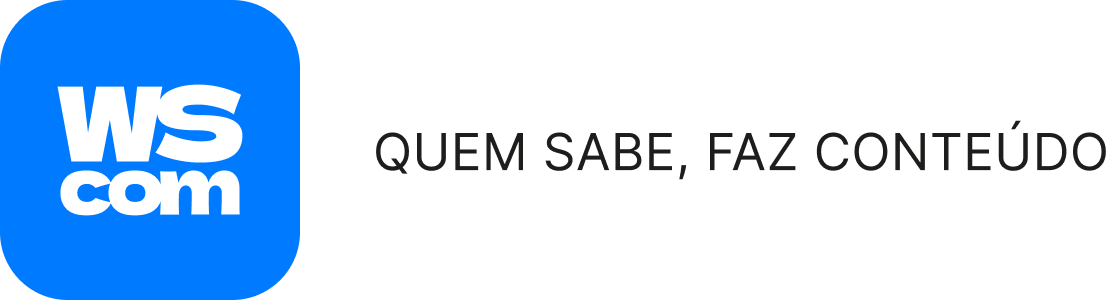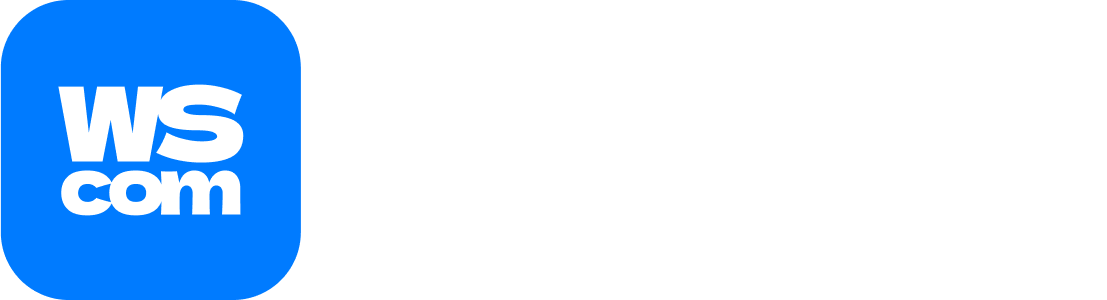Aprendi, fiz ou ressignifiquei um ditado muito cedo: “a sua agonia é você quem dá; é do tamanho da sua presunção”.
Ouvi algo parecido de Zabé Da Loca, não nesses termos, mas quando ela disse que “o tamanho da fome é a paciência que a gente dá”. E a frase vinha com a malícia do mundo: “e a gente não vai roubar, né!”. Expressa no vídeo documentário “Terra de Morada – Fragmentos de Identidades”, 1995, de minha autoria.
Pois é. Há uma sabedoria dura aí. A paciência é o inverso da agonia: serena, precisa, chega na hora certa. Paciência é tempo e espaço. E eu, confesso, sou agoniado. Sempre fui. Sou do tipo que precisa se mexer. Pergunto demais, mexo demais, tento agir sempre que possível.
Talvez seja vaidade, eu queria domesticar a minha agonia, como quem doma um bicho inquieto para poder caminhar sem tropeçar no próprio fôlego. Mas, para entender esse jogo entre agonia e paciência, eu precisei de mestres, de amigos, de gente querida por perto. E aprendi observando: cada um tem suas agonias e suas sagacidades. A graça é quando a sagacidade vira realização.
Foi aí que entrou meu amigo Willis Leal, para mim, “o rei da agonia”, justamente porque ele conseguia aquietar a minha. Ele me mostrava ao vivo, em tempo real, como a ansiedade pode virar método, e como o impulso pode virar projeto. Eu o admirava como se admira um mito: não para copiar, mas para medir a própria curiosidade diante da coragem do outro. Olhando o histórico do mestre, eu pensava: a dimensão do mundo depende do quanto a gente abre telas e janelas.
Willis começou cedo. Na sua biografia e memórias recentes, como me lembro, aparece como articulador de cineclube na Faculdade de Filosofia, ainda nos anos 1960. Era o tipo de pessoa que organizava encontros, puxava conversa, criava circuito. E isso não é pequeno: cineclube é escola de olhar, é alfabetização afetiva, é política cultural sem palanque. Ele dimensionava possibilidades como quem mede um território não por mapas, mas por desejo, e transformava esse desejo em pauta, agenda, projetos, delírios, filmes não realizados, registro.
Ele amava o “atonal”, a poesia além da moral. Escrevia, inventava, registrava.
Foi da escrita, da pesquisa e da memória dos bailes de debutantes aos carnavais, dos salões de clube às histórias da cidade, do Corso Carnavalesco da Lagoa, ao cheiro do lança-perfume em Manaíra e Tambaú. Willis brincou com tudo o que era possível na dimensão histórica de João Pessoa e da Paraíba, sempre com a curiosidade ligada. E, como diretor da PBTur, viajou levando a Paraíba e mostrando que turismo também é narrativa: é contar um lugar com dignidade, sem reduzir cultura a vitrine.
Ele me apresentou a ideia da “Rolíude Nordestina”. No começo, por puro preconceito meu, eu não comprei de primeira. Achei grandioso demais, e hilário, talvez otimista e gozado demais. Mas Willis era magistral na construção de pensamento e na articulação de gente. Ele enxergava cadeia produtiva onde os outros viam só pedra e sol; via economia criativa onde os outros viam só sertão; via impacto turístico onde os outros viam só distância. Ele tinha esse dom de integrar conhecimento, território e oportunidade, como quem costura um filme inteiro com um único fio.
Agora, para ser justo, e fraterno, Willis tinha uma particularidade: ele fedia. Era impressionante. Não gostava de asseio; tomava poucos banhos. Quando chegava ao PARAIWA ou na COEX/UFPB, seus odores avisavam antes, como quem anuncia um fenômeno meteorológico: “chegou”.
Eu dizia a ele, rindo, que tinha “cheiro de bode-rei”, foi dele a ideia e concepção da Festa do Bode Rei, em Cabaceiras. Mais uma do mestre amigo. E Willis me olhava cinicamente, como quem aprova a coragem do insulto afetivo. Às vezes eu achava que ele fazia de propósito, para testar quem ficava ao lado dele sem frescura, e muita gente ficou.
Ontem eu me lembrei dele porque Walter Santos me ligou pedindo informação, está escrevendo algo sobre Willis e queria saber como ele tinha imaginado a tal “Roliúde Nordestina”. A memória voltou inteira, com o humor e com a seriedade. Voltou também a lembrança da turma que convivia ultimamente com ele: Dr. Manoel Jaime, Alex Santos, José Valdir, e tantos amigos que acompanharam aquela loucura boa de fazer o improvável.
Willis, por exemplo, conseguiu colocar uma vaca, uma vaca mesmo, junto com outras “as vacas” na sua piscina, em sua casa em Manaíra na década de 80. E eu guardo isso como uma lição de método, quem inventa território também inventa cenas cinematográficas.
Willis fez “da festa da laranja às festas das meninas moças”, inventava rituais para não deixar a vida virar apenas rotina. E, nesse espírito, ele foi o primeiro a me cumprimentar quando eu fui selecionado para ser produtor de locação de O Auto da Compadecida. Depois, das filmagens de Eu Sou Servo e logo em seguida em longa São Jerônimo, de Bressane, rodado no Lajedo do Pai Mateus, ele chegou com aquela frase que ficou: “Durval, esse lugar é a Hollywood”. E explicou: Cabaceiras é onde menos chove, onde há sol e luz; e cinema precisa de luz.
A “Roliúde Nordestina” começava a ganhar corpo nessa leitura prática do território: clima, paisagem cênica, logística, acolhimento, talento local. Por volta de 1995-1998, Cabaceiras foi se consolidando com as primeiras filmagens em vídeo de que me lembro. A primeira foi a da professora Elisa Cabral, socióloga de extremo bom gosto, que documentou lajedos, pedras, inscrições rupestres e a paisagem cênica com um olhar raro, desses que respeitam o lugar enquanto revelam sua potência.
Na sequência, filmamos Eu Sou Servo e Curtido Couro; depois vieram outras produções, e Willis estava junto, apoiando, fazendo ponte, entendendo a tropa.
Ele dizia, com convicção, que ali havia mais do que cenário: havia uma reunião de gente nordestina, um patrimônio de luz e de pedra que precisava ser visto e preservado.
Willis enxergava o cinema como motor de desenvolvimento regional, não como enfeite. Sabia que filmagem gera fluxo, gera serviço, gera ofício, aciona hospedagem, alimentação, transporte, guia local, artesanato. Sabia também que, se não houver cuidado, a mesma força que traz turismo pode corroer a identidade, por isso ele insistia na preservação, no registro, na memória organizada.
Além de “atonal”, Willis era um Kerouac, um beatnik. Numa conversa dessas, ele me disse: “Acima de tudo eu sou falo”. E logo emendou, é por isso que iria morar no Cabo Branco, “adentrarei o extremo oriental”. Quando vendeu a casa em Manaíra, trocou por um apartamento no Cabo Branco e lá passou os últimos dias. Foi lá que recebi alguns presentes dele, livros e onde desenhamos projetos finais, inclusive o sonho do Museu da Imagem e do Som da Paraíba. Discutimos muito, não basta querer preservar, é preciso construir com quem preserva: método, instituição, acervo, responsabilidade.
É assim que eu relembro meu amigo: um cinéfilo inventivo, um articulador, um agitador de janelas imaginárias. O “rei da agonia” que, paradoxalmente, me ensinou paciência.
Não porque me mandou parar, mas porque me ensinou a medir: tempo, espaço, prioridade, alcance. A sagacidade dele foi me construindo um repositório interno, uma régua para minhas ansiedades. E talvez seja isso que fica quando a gente perde alguém assim: a lembrança vira instrumento, e o afeto vira uma forma de continuar inventando, com humor, com método e com respeito ao território que nos reinventa também.