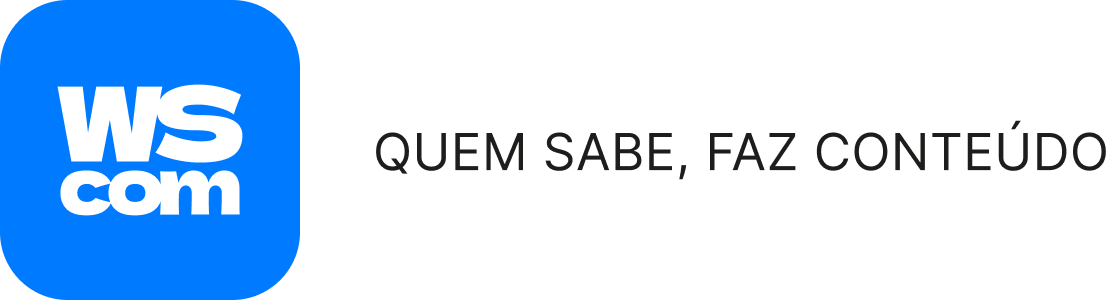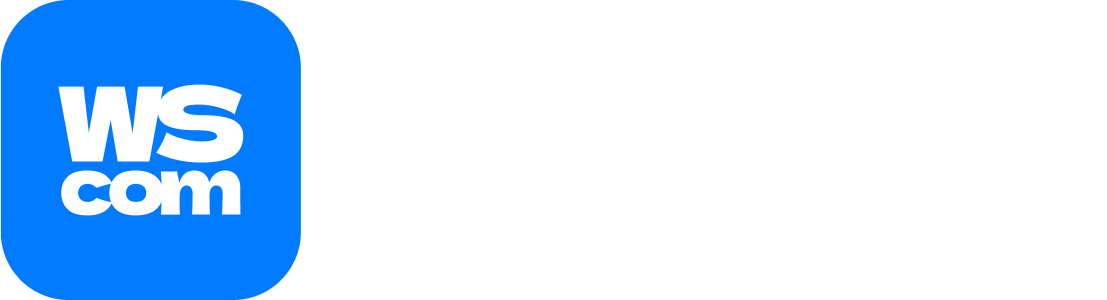A matemática, para mim, sempre foi difícil. A música, idem. E, no entanto, a música é, essencialmente, matemática. Ela fala de universos inimaginavelmente sonoros. Está presente no silêncio e no rock mais pesado, no heavy metal punk. Música é sentir-se conectado, com os sentidos interligados em nuances que vibram no corpo, transmitindo sensações que podem ser as melhores possíveis ou aquelas que se gostaria de esquecer. Música é vida. Música é ritmo. Música é conhecimento profundo.
Sempre me vi rodeado de música na casa do meu pai e da minha mãe. Painho escutava Elizeth Cardoso, a Divina, e a Suíte dos Pescadores, de Dorival Caymmi, que o fazia ninar depois de suas “bebedeiras homéricas”. “Um peixe bom eu vou trazer” ele dizia que sua jangada traria do mar para os amigos e para nós… “Adeus amor, pescador não se esqueça de mim. Vou rezar para ter bom tempo, meu negro, para não ter tempo ruim.”
Do outro lado, Mainha seguia com as orações de Luiz Gonzaga, e os entes nordestinos de Marinês e sua gente, misturava o Trio Nordestino. Só a gente da gente fala a dor no forró, dizia ela. “Ontem ela estava em Moscou, em um pagode Russo” e lembrou dos sonhos do meu pai, que vivenciava a dialética materialista e utópica. Mas seu estilo existencial estava sempre presente. Com Jamelão, Gonzaguinha, e o menino Dominguinhos, com o silêncio e os sons a casa se enchia de música.
Minha mãe, num assombro, me viu como um Paganini e me fez estudar violino. Ela me levou à Luzia Simões, professora, mas, ao treinar a postura segurando o instrumento com o queixo na janela do escritório, os meninos se reuniam para me chamar de Durval Mocinha — um bullying simples e direto na veia. Não tive pendores suficientes. A partir dali, se perdeu um grande Paganini. Aquela posição do violino me trouxe uma frustração enorme, agravada pelas aulas da professora Maria Luíza, no Conservatório de Música. Onde o metrônomo, somado ao ritmo “TAL UITO TAL”, me fez perder-me para sempre das composições.
Tudo não passou de um devaneio materno, uma tentativa de me fazer músico. Mas a música estava além da matemática: estava na calma de perceber sons e silêncios, no preto e no cinza que me formaram. E, ainda assim, permanece como lembrança doce, marcando momentos que nunca se apagam, mesmo sem nenhum conhecimento de fazer música.
Naquele tempo, eu ajudava a limpar as gaiolas de painho — canários-da-terra, cardeal, galo-de-campina e concriz. Os passarinhos no telhado da cozinha compunham, como se criassem uma pequena sonata junto a uma sinfônica. Assim eram os antigos quintais arborizados do Miramar. A música me acompanhou enquanto eu crescia.
Tornei-me jovem, rapaz feito, e precisei trabalhar. Fui parar na Rádio Correio FM, de Campina Grande. Nunca pensei em controlar nada, muito menos aos dezenove anos — nem a mim mesmo, nem à minha desorganização no curso de Engenharia de Minas. Mas, ali, eu era controlista de dois pick-ups, duas cartucheiras (sem balas) para as propagandas, e dois gravadores de rolo. Essa era minha mesa, e minha missão: levar programação de qualidade para os ares de Campina Grande.
Lá, a maioria dos programas era de pop, porque o jabá circulava. No jargão da época, jabá era quando distribuidores, representantes de gravadoras conversavam com a direção da rádio para fazer determinadas faixas virarem sucesso. Assim os mitos se expandiam no ar.
Mas o melhor era ouvir um “postal sonoro” na Rádio Caturité: uma música levando saudade, recados, memórias vividas de quem estava na solidão. A música tem temporalidades. Reverte formação. Desenha trajetórias como linhas do tempo. Evoca padrões.
Meu calhambeque era meu Fusca. Porém, era de terceira categoria. Mas no seu console havia uma tecnologia avançada: um toca-fitas cassete. Era um Marantz — de terceira mão, mas um Marantz. A oportunidade era mostrar as radiolas reggae recentemente recebidas de São Luís, a capital do amor e do reggae dançado coladinho. Aquele era meu som. Um rastro de orgulho juvenil misturado com ska, soul e black music.
Com essa vivência, e com meses de trabalho como controlista, entrei na Rádio Universitária FM da UFPB, em 1984. Ano pródigo de mudanças. Uma mudança radical, que viria não só na vida… Como servidor público em uma rádio — era o céu, muito mais perspectivas, meu futuro desenhava musical. Nos escaninhos e porões da Rádio Universitária FM, entre estantes de LPs, encontrei Everaldo Pontes e Olga Costa, o “Jardim era Elétrico”, de aprendizado em ouvir música. Marco da Paz, Clóvis Costa e Oswaldo Sarinho eram os servidores públicos que, com suas vozes, elevavam a música ao mais alto nível. A música era o cotidiano daqueles que faziam rádio com carinho.
Foi uma das melhores experiências de radiodifusão que pude absorver. Aprendi, percebi, ouvi na solidão da cabine. Com o tempo, ganhei confiança: colocava blocos, fazia o diálogo entre o pick-up, a agulha e o ar. Tudo estava no ar. A música estava no ar. O maestro era o universo sonoro que conduzia. Aprendi a perceber nuances da música brasileira e a importância de se ter um espaço de identidade musical universitária, na Paraíba.
No comando, Carmélio Reinaldo. Um sábio, profundo conhecedor de música e generoso em apresentar a diversidade da música paraibana. Esse é um dos sinônimos máximos da Rádio Universitária FM, da Universidade Federal da Paraíba: fazer diversidade musical.
Foi ali que conheci o trompete de Márcio Montarroyos e a voz profunda de Al Jarreau. A música era puro sentido: o sentido nigeriano de Fela Kuti, o som do Jaguaribe Carne, dos irmãos Pedro Osmar e Paulo Ró, somado à essência fina de Chico César, recheado de ironias de Totonho, no bordado calmo de Milton Dorneles. O experimental estava no local e no universal. A música era fina na Rádio Universitária FM e sempre presente.
Questionava-se até que existia uma tal Lira Paulistana, que apresentava o expressivo Arrigo Barnabé e suas narrativas. Assim conheci meu primeiro “deus negro brasileiro”: Itamar Assumpção. Ao ouvir Itamar, “Ciúme do Perfume”, percebi que existia uma poesia diferente, alma pulsante e rebelde tonal. Jorge Ben Jor me reafirmou que “os alquimistas estão chegando”. Em casa, meu pai entrou nas mansões filosofais. A música buscou outra dimensão. Eu sonhava e via, no fino bigode de Dorival Caymmi, o sorriso do meu pai, neguinho Durval.
Uma dimensão que mostrava uma diversidade infinita. Nem o deus Rá ou Amon, se tivessem ouvido tudo, conseguiriam alcançar as profundezas das galáxias musicais. E mesmo assim, nós temos esse privilégio humano de sentir a difusão do que está no ar. O conhecimento sonoro da diversidade. A motricidade das ondas sonoras que formam a música — do pássaro ferreiro buscando as notas mais agudas ao moto contínuo de “Rondo Alla Turca”, de Mozart — tudo se encontra no perdido compasso do metrônomo infinito.
Talvez dentro de um buraco negro se mergulhe na música do além.
O que vem aí de música de IA? De tudo é possível.
Já tivemos Almir Rogério relembrando que tive um fuscão preto, mas o meu era branquinho. E, para mim, o desejo permanece no coração: ouvir novamente Evaldo Braga e enviar um postal sonoro que me levará de volta aos meus nove anos.
A música, no fim das contas, é isso: uma sucessão de memórias que não pedem licença. Chegam por cima da poeira do tempo, rompem a ferrugem dos dias e nos devolvem a nós mesmos. Cada casa, cada rádio, cada ruído de pick-up, cada fitinha esticada, cada LP riscado, cada grito no show, cada reza cantada, cada silêncio que antecede o primeiro acorde — tudo isso funda uma espécie de biografia paralela, escrita não com palavras, mas com sons.
A música ocupa lugar onde nenhuma outra coisa cabe. Ela se infiltra no que não sabemos explicar e organiza o que parecia caótico. Talvez por isso eu tenha aceitado tão cedo estar atrás de uma mesa de som, controlando botões que, de certo modo, não controlavam nada. Era a música que nos controlava a todos. Era ela que ajustava o humor da cidade, que regulava o compasso do trabalhador indo cedo para o ponto de ônibus, que embalava o sofrimento, o amor, a saudade, a espera.
Na Rádio Universitária FM, entendi outra coisa: música é convivência. Não se faz sozinho. Não se faz calado. Não se faz restrito. Ela exige espaço, exige ousadia, exige quebras. Cada faixa tocada era um convite para que alguém, em algum bairro distante, percebesse que também tinha lugar ali. A diversidade musical era, antes de ideologia, uma forma de respeito.
Hoje, olhando pra trás, percebo que a música foi moldando minhas passagens. Foi me mostrando que a vida se organiza em compassos: ora lentos, ora apressados; ora em notas longas, ora em pausas profundas. Foi assim em casa, com painho e mainha construindo um repertório que misturava pescadores, reza, forró, samba, silêncio e filosofia. Foi assim na juventude, com os gravadores de rolo e o jabá que soprava interesses no ar. Foi assim na Universidade, onde descobri que música também é serviço público, também é missão, também é entrega.
E, no fim das contas, é assim até hoje.
Porque música é essa memória que não se deixa apagar. É companhia de quem viveu demais e de quem viveu de menos. É ponte entre quem fomos e quem nos tornaremos. É o postal sonoro que insiste em voltar, trazendo o menino de dezenove anos, curioso universitário, que ainda cabe dentro de mim.
A música, enfim, não muda o mundo. Mas muda o instante. E, às vezes, é o instante que salva o dia. É nele que a vida se ajeita, mesmo que seja apenas por três minutos e quarenta e dois segundos. E, quando a última nota termina, fica o silêncio. Mas um silêncio povoado, cheio de ecos. Um silêncio musical. Um buraco no jargão do rádio.
O mesmo silêncio que, desde a casa dos meus pais até hoje, me acompanha, como quem diz baixinho:
“A MÚSICA É O AR, E UM BREVE SEMITOM DE IA.”