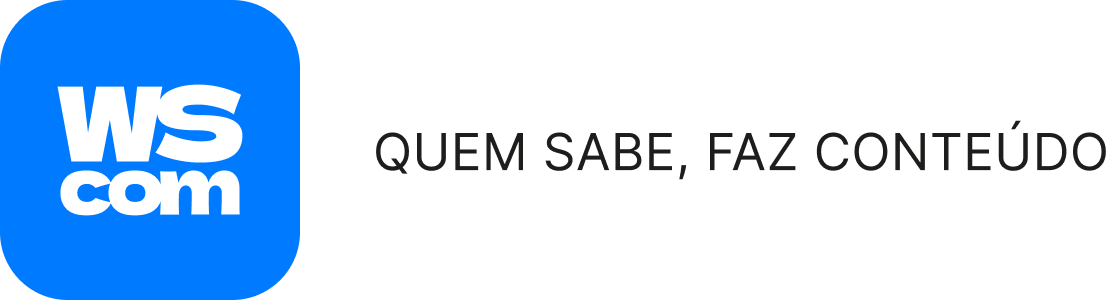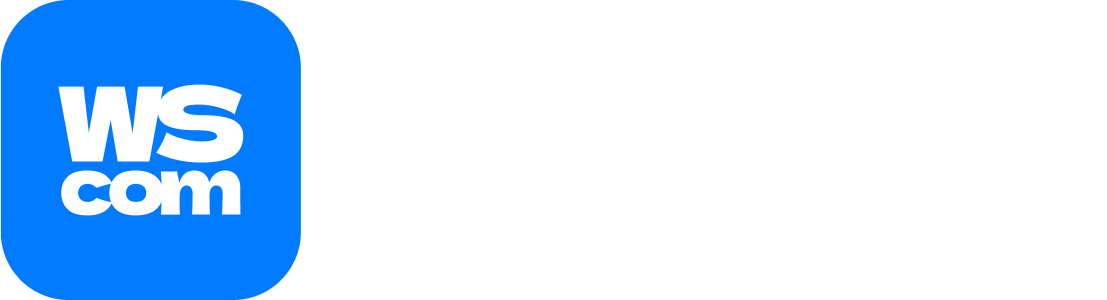Ao longo da história brasileira, a anistia tem sido usada como uma poderosa ferramenta de pacificação — pelo menos na aparência. Desde o Brasil Império até os períodos mais recentes, o perdão estatal foi aplicado como uma estratégia para reintegrar dissidentes, controlar tensões e reforçar a autoridade central. No entanto, esse uso do perdão político, como revela o historiador Francisco Menezes, nem sempre teve motivações humanitárias: em muitos casos, foi uma forma de encobrir opressões e fortalecer o status quo.
“A anistia no Império visava dar uma satisfação à sociedade de que o regime era humanizado e sabia perdoar seus adversários”, afirma Menezes. “Mas era um perdão seletivo, condicionado e muitas vezes simbólico, que excluía amplos setores da população.”
Siga o canal do WSCOM no Whatsapp.
O perdão como tática de governo
Durante o Brasil Imperial, a anistia era uma prerrogativa do imperador, prevista no Poder Moderador pela Constituição de 1824. Tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II lançaram mão desse recurso para tentar conter revoltas e consolidar o novo regime monárquico.
Logo após a Independência, em 1822, Dom Pedro I perdoou defensores da permanência do Brasil sob domínio português. A medida buscava, claramente, neutralizar opositores e firmar a estabilidade do jovem império. Um ano após a violenta repressão à Confederação do Equador, em 1824, o governo também recorreu à anistia para apaziguar as tensões no Nordeste.
Para Menezes, a lógica por trás dessas decisões era muito mais política do que reconciliadora. “Era uma forma de passar a ideia de camuflagem da face oculta do regime. O Império queria parecer ‘bonzinho’ diante da sociedade, mas esse perdão era restrito a brancos e aliados do sistema. Pretos, pardos e indígenas não eram incluídos nesse pacto de ‘reconciliação’”, explica.
Revoltas e barganhas
Durante o Período Regencial (1831–1840), em meio a uma série de levantes como a Cabanagem, Balaiada e Sabinada, o número de anistias aumentou. Estima-se que mais de 20 decretos de perdão foram emitidos. Ainda assim, o historiador aponta que tais medidas tinham um caráter altamente estratégico: “A anistia era condicionada à submissão ao poder central. Tratava-se de barganha política, não de justiça.”
No Segundo Reinado, Dom Pedro II manteve o uso da anistia como instrumento de contenção. Revoltas como as Liberais (1842) e a Praieira (1848) foram seguidas de anistias — mas, segundo Menezes, nem todos os envolvidos recebiam o perdão. “A anistia não era nem ampla, nem geral, muito menos irrestrita. Era ‘consentida’, excluindo quem o regime julgava radical ou perigoso demais. Os líderes da Revolução Praieira, por exemplo, ficaram de fora por muito tempo.”
Perdão para aliados, exclusão para os demais
A seletividade da anistia era visível não apenas em quem era perdoado, mas também em quem era sistematicamente ignorado. Menezes destaca o papel privilegiado da Igreja Católica: “Religiosos eram sempre anistiados. A Igreja era parte do Estado, e mesmo quando havia dissidências internas, o perdão vinha como forma de recompor a aliança institucional.”
Assim, a política de anistia servia como instrumento de conciliação com os setores já alinhados ao poder. “Era uma forma de distensionar as questões sociais sem realmente enfrentá-las. Um pacto entre iguais — desde que esses ‘iguais’ fossem brancos, homens e pertencentes às elites locais.”
Impacto limitado na construção do Estado
Quando questionado sobre o impacto dessas anistias na formação do Estado imperial brasileiro, o historiador é categórico: “Não impactaram em quase nada. Era uma anistia de fachada, controlada, oferecida apenas a quem não ameaçasse de fato a continuidade da monarquia.”
Apesar da imagem de magnanimidade que o Império buscava projetar, a realidade era outra: o perdão servia mais para preservar o poder do que para promover justiça ou reconciliação. “As anistias imperiais sacrificaram a memória e as demandas de muitos grupos em nome de uma coesão nacional artificial.”
Legado para os séculos seguintes?
O uso político da anistia deixou marcas na cultura institucional brasileira. Mas, para Menezes, o legado direto dessas práticas imperiais é limitado. “As anistias republicanas posteriores, como as de 1947 e 1985, foram de natureza distinta, embora igualmente políticas. Em 1947, Vargas anistiou os comunistas. Já em 1985, após a ditadura militar, a anistia foi tão ampla que acabou protegendo inclusive torturadores e assassinos.”
Ambas, segundo o historiador, mostram que o Brasil continua utilizando o perdão como ferramenta de gestão de crises — muitas vezes sem responsabilização efetiva. “Seguimos tratando a anistia como um mecanismo de pacificação superficial, sem resolver os conflitos mais profundos.”